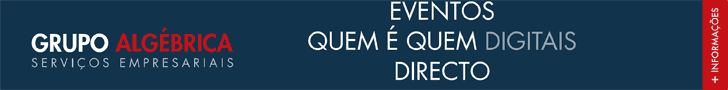O que é que as novas tecnologias, com o seu encurtamento das distâncias, trouxeram para os conceitos de gestão?
As novas tecnologias digitais de informação e comunicação permitiram, desde logo, verificar alguns conceitos e teorias da economia e da gestão. Saliento aqui a redução do âmbito das actividades e o aumento do âmbito geográfico de cada empresa. Maior especialização vertical e maior diversificação geográfica não são novidade, mas o que é diferente hoje é a extensão com que acontecem, em paralelo, em todos os sectores, por todo o lado. A constatação é contra-intuitiva: as empresas são cada vez “maiores” (mais vendas), sendo cada vez mais “pequenas” (relativamente menos capital imobilizado e menos trabalhadores). A explicação principal é o aumento notável da terceirização (desde a simples subcontratação até às parcerias estratégicas verticais) que acompanha a redução dos custos de transacção na generalidade dos mercados. Tal redução traduz o efeito do decréscimo brutal dos custos marginais da partilha de informação no espaço e no tempo de um mundo digital, bem como dos concomitantes custos de coordenação e controle entre empresas. O que os computadores e a internet, em conjunto, trouxeram às empresas foi a mudança do que as empresas fazem, muito mais do que a melhoria do que já faziam. Certo que uma empresa pode hoje executar uma certa operação com maior eficiência do que no passado, devido ao impacto que o maior acesso e o uso mais eficaz da informação tem no consumo de outros recursos e na qualidade e rapidez da operação. Mas o que é mais relevante é que a empresa deixa de fazer a referida operação no seu interior e a subcontrata a outra empresa, que pode, isso sim, aumentar muito mais a produtividade da operação pela combinação do efeito da especialização com o efeito de escala. As novas tecnologias trouxeram ainda outro efeito, potencialmente mais valioso. Trata-se do maior alcance geográfico da empresa, mais visível no caso de empresas em que o próprio produto se constitui de informação. Mas, também aqui, mais interessante do que a generalização de fazer o mesmo para uma parte maior do mundo é a viabilidade alargada de um tipo diferente de inovação estratégica, resultado da capacidade já evidente em algumas empresas que aprendem a partir do mundo em vez de projectarem para o mundo o que aprenderam no seu local de origem. Seria difícil ter desenvolvido o conceito de empresa metanacional (1) antes, num mundo que em que algumas distâncias eram muito maiores, ainda que a emergência esporádica de casos que ilustram o conceito de metanacional se tivesse já verificado nesse passado. Por tudo isto podemos associar novas tecnologias digitais, inovação empresarial e melhoria da nossa compreensão da gestão.
(1) Yves Doz, José Santos, Peter Williamson: “O Desafio Metanational”. Editora Monitor. Lisboa, 2006.
(tradução do original publicado pela Harvard Business School Press).
O que há de errado com a “glocalização”?
Nada. Nem de errado nem de certo, já que também não é a solução geral que a popularidade da expressão “pensar global, agir local” poderia fazer crer. Trata-se apenas do resultado de um par de escolhas que qualquer empresa multinacional faz, mesmo que só implicitamente. Uma é a escolha do grau de adaptação da empresa – dos seus produtos, da sua estratégia de negócio, da sua organização, dos seus valores, da sua forma de governo – ao contexto local que encontra em cada país. É, portanto, uma escolha de diferenciação interna provocada pela diversidade dos contextos externos, nacionais, em que a empresa se encontra, orientada pela optimização do seu desempenho local. Outra é a escolha de como decidir, coordenar e controlar o que empresa faz nos vários países. É uma escolha do nível de integração, no intuito de optimizar o seu desempenho global. São escolhas ortogonais. A “localização” é primeira no tempo, quer porque é praticada desde que existem empresas multinacionais quer porque é a mais óbvia desde que uma empresa se internacionaliza. A escolha de ser empresa “global” (isto é, ser empresa composta de unidades locais interdependentes, integradas numa unidade global) ou não (isto é, ser uma carteira de unidades locais autónomas), é bem menos óbvia. Verifico até, mais do que gostaria, que existe uma confusão, na sociedade como nas empresas, entre global e universal, entre os conceitos de unidade e de padrão. Como se ser “global” fosse ser igual em todos os países, como se união fosse o mesmo que padrão único em todo o lado (que, no caso das empresas seria o seu país de origem, o “lar, doce lar” da empresa). Mas não é. A distinção é muito importante, já que tudo parece indicar que ser “global” é cada vez mais um imperativo. A globalização é uma forma consciente de colaboração, não de padronização - e muito menos de imposição.
Os diamantes porterianos ainda são os melhores amigos das empresas?
Entendo que não. Os “melhores amigos” de uma empresa são os gestores aptos ao desenvolvimento das capacidades da empresa que a tornem superior às empresas congéneres ou concorrentes. Defendo, portanto, que os factores primários da vantagem competitiva sustentada se encontram no interior da empresa, não na envolvente externa da empresa nem no posicionamento da empresa face aos seus concorrentes no mercado, relevantes mas secundários. Mas a pergunta é difícil, porque a história aponta para a validade da proposta da “vantagem competitiva das nações”. Os “diamantes” de Porter são a metáfora de que a raíz do sucesso empresarial está fora das empresas, na sua envolvente. Ou, como costumo dizer, de que a geografia é destino. Se a empresa tiver sido criada no país e local certo, provido de um “diamante” de elevado quilate no seu sector de actividade económica, basta que a gestão da empresa não interfira muito, que não estrague (no limite, basta que não exista). As “forças”, os quatro lados do “diamante” que envolve a empresa, dar-lhe-ão a vantagem de que precisa relativamente às empresas de outros locais, de outros países. Em relação às empresas concorrentes que co-habitam o local e se aproveitam do mesmo “diamante”, o sucesso da empresa é ainda explicado pela actuação de “forças” externas (ora cinco em vez de quatro) e pelo posicionamento da empresa. Sempre de fora para dentro. A explicação é válida, sem dúvida, mas não é nem única nem teoria geral. Primeiro, o que acontece à empresa se o “diamante” perder o “brilho”? Basta perguntar às três ex-estrelas do sector automóvel, cuja fortuna mudou com a perda da vantagem sectorial americana. Onde estavam os gestores que deviam ter mudado a natureza dessas empresas, a que não faltavam capitais nem gente competente em tantos lugares do mundo, libertando-as da sua geografia original? Segundo, o que faz a empresa se não houver mais “diamantes” no seu negócio? Um dos atributos do mundo de hoje é exactamente a dispersão geográfica dos factores da vantagem competitiva num número crescente de sectores de actividade económica. Este aumento da intensidade de especialização nacional é uma das consequências mais profundas da globalização. Uma tecnologia do produto está sendo desenvolvida aqui, outra ali, noutro país, mas o saber de processo está noutro lugar, a experiência dos clientes mais avançados noutro lugar ainda. Num mundo assim, a estratégia e desempenho empresariais não podem ser explicados pelas qualidades de nenhum lugar, de nenhum país, mas pela capacidade da empresa em aceder e combinar esses recursos intangíveis dispersos pelo mundo. Pela qualidade da gestão da empresa, que assim se torna metanacional. Para uma empresa criada no país ou sítio errado, a solução não é esperar que alguém produza o “diamante” nesse sítio. O que a empresa precisa é de líderes que a dotem de uma vantagem estratégica que resida na capacidade própria de explorar o mundo e de construir inovações a partir do que encontra no mundo – o seu desempenho estará, assim, para além dos países.
Em que consiste saber importar o conhecimento para gerar inovação?
Uma inovação inclui sempre um conjunto de conhecimentos. No caso das inovações nos negócios e nas empresas (por exemplo, um novo serviço, um novo processo de comercialização, um novo modelo de negócios) esses conhecimentos são de dois tipos diferentes: conhecimentos de tecnologia (de ciência, de engenharia, de perícia operacional, etc.) e conhecimentos do mercado (do gosto dos clientes, da experiência dos consumidores, da criatividade dos utilizadores mais avançados, da valia das ofertas alternativas, etc.). Quero anotar que o processo fundamental para a inovação é a combinação ou fusão de conhecimentos, numa certa ordem – a que chamo “arquitectura da inovação”. Quanto mais complexa for a inovação, maior o numero e a diversidade dos conhecimentos incluídos. Quanto mais radical for, mais indeterminada a sua arquitectura. Se os conhecimentos incluídos na inovação estiverem co-localizados, o problema da identificação de quais os conhecimentos a incluir e da sua ordem de inclusão é, regra geral, resolvido pelo acaso. Daí a relevância do arranjo espacial num laboratório de investigação, dos encontros casuais nos corredores e nos cafés locais, das visitas assíduas de um fabricante a um seu cliente líder do outro lado da rua. O problema da fusão de conhecimentos, principalmente dos conhecimentos mais tácitos ou de codificação ineficaz, resolve-se com a proximidade física que acompanha o trabalho em equipa. Ou seja, é a proximidade física entre os detentores dos conhecimentos que facilita a sua identificação e combinação. Tal condição cai quando os conhecimentos estão dispersos pelo mundo. Assim, a “importação” de conhecimento para gerar inovação consiste numa sequência de tarefas: identificar o conhecimento e descobrir onde no mundo esse conhecimento é mais desenvolvido; aceder a esse conhecimento pela via da experiência no seu contexto original (salvo se a natureza do conhecimento permitir uma codificação eficaz – o que é mais certo para os conhecimentos tecnológicos e quase sempre falso para os conhecimentos de mercado); descontextualizar o conhecimento, isto é retirar-lhe os elementos específicos do local de origem; dar-lhe forma de objecto transportável, desde informação digital até à pessoa de um especialista; transportá-lo para o local onde será combinado com os outros conhecimentos para gerar inovação; e acompanhar a sua re-contextualisação no novo contexto. No caso de conhecimentos de natureza diferente, deve gerar-se a inovação no local onde residirem os conhecimentos mais tácitos e contextuais (transportando para aí os conhecimentos mais explícitos e universais). Se a arquitectura da inovação implicar interdependência recíproca entre os saberes a incluir, a realização da inovação será em equipa virtual. Neste caso, mais intrigante, a geração de inovação pode envolver conhecimentos distantes que não chegam a ser “importados” com o conhecimento mas apenas como artefactos.
Como é que a miscigenação de culturas se reflecte nas lideranças?
Não sei se o conceito de miscigenação de culturas se pode aplicar à empresa e à gestão, nem se terá significado falar de lideres “mestiços”. Não há escala temporal para isso na existência de uma empresa ou na carreira de um gestor. Podemos, outrossim, falar de líderes “cosmopolitas”. O líder cosmopolita tem experiência de vida e de gestão em pelo menos duas culturas nacionais diferentes. Uma cultura mais vivida, a cultura da nação a que pertence. Outra menos, a cultura estrangeira, mas em que a sua permanência foi de uns três anos ou mais. Porquê este tempo e não menos? Para que se dê uma certa transformação na pessoa do líder. Para que, longe do povo a que pertence, por comparação, ele se dê conta de quem é o seu próprio povo. Quando se vive e dirige uma empresa fora de Portugal, o que nós descobrimos é o que significa ser português. Quando voltamos, “vemos” a nossa cultura como nunca víramos antes. Como os peixes, somos incapazes de compreender o que é a água até estarmos fora dela por tempo bastante. Os peixes morrem para descobrir o que é a água. Nós, para descobrirmos a cultura de que somos, ficamos marginais a ela. É essa a transformação. Depois, marginais – ou cosmopolitas (“cosmopolitas” sempre é melhor expressão) –, sabemos observar ou viver a realidade em culturas diferentes. Sem paroquialismo, sem etnocentrismo. Com a noção clara de que vemos ou experimentamos só uma parte da realidade. Que a compreensão integral das coisas locais nos está vedada, a “nós” como a quase todos “eles”, salvo aos cosmopolitas locais. Com a intuição mais certa dos elementos específicos da cultura local e dos elementos mais universais. Quase sempre com o domínio de mais do que uma língua, suficiente para que apreciemos a limitação com que qualquer língua representa a realidade ou a nossa experiência dela. O líder cosmopolita, resultante de uma experiência cultural múltipla, está assim bem mais preparado para dirigir uma empresa global e é mesmo condição necessária para uma empresa metanacional.
O que aprendemos a viajar que não aprendemos nos livros?
Quando ensino inovação global ou adaptação local ou simplesmente transferência de conhecimento a executivos de empresas multinacionais, costumo mostrar uma fotografia de um gato (sempre gostei de gatos). Depois afirmo que confundir informação com conhecimento é o mesmo que confundir a fotografia de um gato com o gato. Posso enviar a fotografia do gato pela internet. Enviar o gato seria obra. Posso ver fotografias de gatos, ler sobre gatos. Não chega. Para conhecer mesmo o que é um gato é preciso ter a experiência do contacto com gatos. É preciso ter falado com eles, passado a mão pelo seu pêlo, ter sido arranhado e acariciado por eles, partilhado um pouco que seja da sua existência. Viajar é isso mesmo. Permite a experiência do outro lugar, tocar a vida da sua gente, aceder ao conhecimento implícito próprio daquele contexto distante de nós. Pensar que conhecemos outro lugar porque lemos um livro ou porque folheamos páginas na internet é tal e qual como confundir um gato com a sua fotografia. Para quem não tenha de tratar de gatos, até que a confusão escapa. Mas para quem tenha de os cuidar ...
Biografia
Começou uma carreira académica no início dos anos 70 mas optou pelo mundo da gestão poucos anos depois. A sua carreira de 20 anos como executivo incluíram quase todas as formas de gestão e negócio internacional.
Desde 1995 que se concentra na carreira académica, o seu sonho de juventude. É Professor de International Management no INSEAD, Fontainebleau, França, sendo a sua área de investigação a organização multinacional, com enfoque na inovação, knowledge management, global customer management, e o impacto do e-business.
O livro "From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy", em co-autoria com Yves Doz e Peter Williamson, foi publicado em Novembro de 2001 por Harvard Business School Press.
|