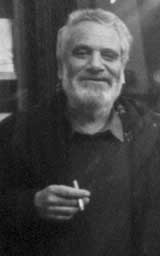Henrique Garcia Pereira
“Eu não perco informação
quando a transmito, e ganho seguramente quando a partilho.”
Que sonhos têm os personagens
dos seus sonhos?
Se André Breton vaticinou que o poeta do futuro ultrapassará
a ideia deprimente do divórcio irreparável entre
a acção e o sonho, já no passado Fernando
de Lemos passava a texto fotográfico (por uma ‘acção
material’) os seus sonhos embrulhados numa nuvem de
fumo (Fig. 1).
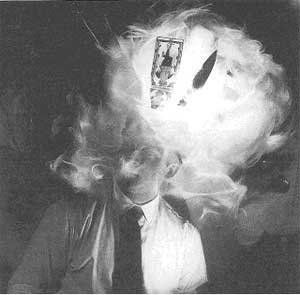
Fig. 1 – Fernando de Lemos e o
sonho passado a texto fotográfico
Mas antes do nosso fotógrafo surrealista, também
Man Ray, nos anos 20 do século XX, fotografara (com
o seu espírito ‘experencial’) Tristan Tzara
a fumar sentado num parapeito, inclinando-se sobre os seus
sonhos (Fig. 2).
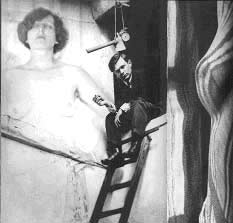
Fig. 2 – Tristan Tzara, a fumar
sobre os seus sonhos, fotografado por Man Ray
E do fumo do meu cigarro (Fig. 3) sai o sonho de ‘mostrar’
Pessoa ao subcomandante Marcos. Aliás, o nosso poeta
partilha com o homem do pasa-montañas a vontade de
mistificação e fingimento, e até uma
certa apetência pela ‘publicidade’ 1
silenciosa.
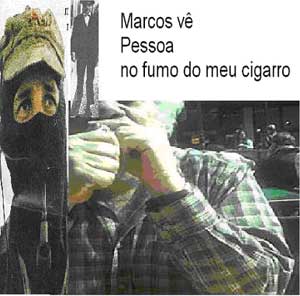
Fig. 3 – Perante o espanto de Marcos,
Pessoa sai, a fumar, do fumo do meu cigarro
1 Sobre
a Coca Cola, Pessoa construiu o célebre slogan “primeiro
estranha-se, depois entranha-se”. Javier Cercas generaliza
o slogan de Pessoa a todo o nosso país (“ Portugal
es un sítio bastante raro, bueno para fijar los ojos
en frente al precipicio y caer verticalmente al vicio”).
“A MATÉRIA DE QUE
SÃO FEITOS OS SONHOS”
Editorial Teorema (2004), p. 8, 9, 248, 249
Não ter que fumar é morrer um pouco?
Hoje em dia não há nenhum fumador que tenha
a menor sombra de dúvida sobre os reais, efectivos,
insofismáveis e atrozes ‘malefícios do
tabaco’. Então, o prazer de fumar implica um
risco que cada um assume em plena consciência. Mas a
sociedade contemporânea é feita de riscos (e
nenhuma cultura sobrevive sem alguma relação
com um qualquer conjunto de substâncias adictícias
1 ) .
Quando verificou que o ‘progresso’ linear promovido
pela ciência era incapaz de resolver linearmente os
problemas da humanidade, fazendo “da pele humana um
gigantesco porta-moedas” (nas palavras de Karl Kraus),
e que a própria aplicação da ciência
à escala global implicava inúmeros perigos -
imprevisíveis – para a sobrevivência dos
seres vivos e do próprio Planeta, passou a viver-se
numa ‘sociedade de risco’, como diz Ulrich Beck.
Então, a vida quotidiana passa a ser ameaçada
por uma série de ‘factores de risco’, de
que todos vamos tendo cada vez mais conhecimento (ou vaga
notícia?). E a atitude perante o risco não se
rege por argumentos ‘contabilísticos’:
parece que a generalidade dos indivíduos é mais
“risk averse” do que seria de esperar pela simples
ponderação dos custos-benefícios (segundo
«The Economist» de 11.08.2001, “people feel
the pain of a loss more accurately than the pleasure of a
gain of equal size”).
Num plano anedótico, a percepção confusa
que as pessoas têm do risco é bem ilustrada por
aquela estória, passada no Brasil, em que um caipira,
quando o rapaz do bar lhe estendeu o maço de tabaco
que tem o dístico da Fig. 4, perguntou: - “Moço,
não tem antes daqueles que provocam o câncer?”
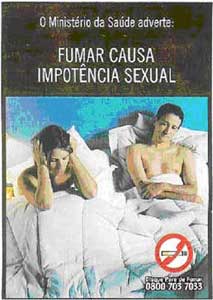
Fig. 4 – Maço de cigarros
brasileiro com uma advertência que as pessoas levam
a sério (ao contrário daquelas que se referem
ao longo prazo)
Cada um sabe como quer viver (e morrer) e tem a liberdade
de escolha entre o cancro de amanhã, provocado pelo
cigarro de hoje, e outra morte qualquer (incluindo o cancro),
provocada por outro agente inidentificável hoje. E
a escolha que se tem de fazer é profundamente pessoal
e reflexiva, não podendo caber a nenhuma ‘instituição’
(por mais meritória e abstracta, como o Cirurgião
Geral dos Estados Unidos) ou ‘autoridade’ (encarregada
de vigiar e denunciar os transgressores ‘desviantes’ 2
) o papel de fiscalizar a composição do conjunto
de riscos que as pessoas estão dispostas a correr (
e a dose aceitável para cada um dos correspondentes
‘factores de risco’).
E porque a morte, como processo fortemente não-linear,
tem aversão à ‘separabilidade’ dos
factores que a provocam 3, talvez seja de aceitar alegremente
o velho aforismo “It’s better to die from something
than from nothing”, que abriu as portas à Merry
England dos tempos isabelinos (mais modernamente, Neil Young
canta assim: “It’s better to burn than to fade
away”).
Só mesmo Karl Kraus, com a veia satírica que
lhe conhecemos, é que podia considerar “tentador
morrer por uma pátria onde não se consegue viver”
(e se a repressão sobre os fumadores se agudizar, esta
nossa pátria, que é o Mundo-Todo, torna-se invivable
para um significativo segmento da população).
Foi um pouco isso que aconteceu durante os últimos
anos da URSS, não por repressão sobre os fumadores,
mas por escassez de stocks (uma população habituada
a suportar estoicamente toda a sorte de penúrias, revoltou-se
violentamente contra os resquícios de Estado que ainda
sobravam, de tal modo que foi necessário dar prioridade
à importação de tabaco, em detrimento
dos próprios géneros alimentícios...).
Na «Consciência de Zeno», de Italo Svevo,
o contabilista de Trieste afirma: “O sofrimento, os
amores, em suma, a vida inteira, não podem ser considerados
enfermidades pelo facto de nos fazerem mal”. Apesar
desta sábia observação, Zeno mostra (paradoxalmente)
uma incapacidade atávica em lidar com o risco. De facto,
a sua vida é a história de uma sucessão
infinita de decisões falhadas 4, entre as quais sobressai
obviamente a principal: ‘deixar de fumar’. Através
do seu hesitante herói, cuja trajectória é
marcada pela incapacidade em atingir os objectivos a que se
propõe, Svevo faz uma profunda reflexão sobre
o tempo, baseada nos paradoxos de Zenão de Eleia (também
Aquiles nunca apanha a tartaruga, nem a seta chega ao alvo).
1 Excepto
os esquimós, que foram dizimados numa geração.....
2 Este tipo
de repressão pode ter consequências perversas
em relação aos seus objectivos, como nas bem
estudadas condutas ordálicas dos adolescentes (quanto
mais severa é a regra imposta, maior a apetência
em violá-la).
3 Isto é,
surge sempre em consequência de um conjunto sistémico
(não-aditivo) de causas, a mais relevante das quais
é “estar vivo” (e por isso se diz que a
vida é a mais perigosa das doenças sexualmente
transmitidas). E como a morte tem a probabilidade 1, é
difícil de avaliar qual o ganho trazido por uma vida
mais ‘pura’, em face dos sacrifícios que
isso implica. De facto, o cálculo de probabilidades
empírico funciona a posteriori (pela frequência
de mortes devidas a cada uma das causas que estão inventariadas
na certidão de óbito, entre as quais surgem
6% de “sinais e sintomas e afectações
mal definidas”). Por outro lado, não é
possível dar conta da combinatória de riscos
a que cada ‘morto’ foi sujeito, a menos que um
reverse follow up fosse possível.
4 Desde o
conflito com o pai à indecisão nos estudos e
no casamento, passando pela inabilidade crassa nos ‘negócios’,
Svevo escreve a vida de Zeno como uma sucessão de gestos
todos iguais (“os cigarros já fumados são
semelhantes ao que agora tenho na mão”). Na fumo-análise
de Svevo (alternativa à psicanálise nascente
de Freud), o acto de roubar dinheiro para cigarros do casaco
do progenitor - e também o de passar a surrupiar-lhe
os charutos – são marcos cruciais na internalização
da lei patriarcal exercida sem castigo (mas dando origem a
uma profunda culpa).
“A MATÉRIA DE QUE
SÃO FEITOS OS SONHOS”
Editorial Teorema (2004), p. 225, 226, 236, 238, 239
Qual a arte recombinatória da sua multiplicidade
de referências?
A conotação negativa que estava associada ao
híbrido desvaneceu-se com a emergência irresistível
do heterogéneo, da miscigenação, da amálgama.
O velho racionalismo pretensioso (com raízes na fobia
de Aristóteles em “confundir as categorias”)
perde-se agora no emaranhado de novos rizomas: as coisas ‘deixam
de estar no seu devido lugar’ pela pulverização
das hierarquias, dos saberes e das especialidades, num novo
contexto heterodoxo onde impera a multiplicidade de referências.
A Arte Recombinatória como exercício de hibridização
surge assim com todo o seu nervo, possibilitando a expressão
das intuições e das interpretações
‘ensaiadas’ no ensaio: cada livro que lia ou relia
era sublinhado nas passagens que se iam associando às
questões “verdadeiramente importantes”
para mim (e estes sublinhados sobrepunham-se a outros, de
outras épocas 1, vd. Fig. 5a);
nos jornais e revistas, pesquisava febrilmente (ou surgiam
‘naturalmente’) os exemplos que ‘ilustravam’
e prolongavam os tópicos que queria tratar (Fig. 5b);
nos ‘caderninhos’ antigos relatando remotas derivas
ia buscar blocos de texto que se ligavam àquilo que
queria expressar (Fig. 5c); nas notas soltas e em papelinhos
a esmo encontrava as peças de um Lego que se encaixavam
no fluir do pensamento (Fig. 5d); na WWW procurava elementos
que contribuíam para repensar o fio condutor da ideia
(Fig. 5e), numa miscigenação desregulada de
todos os mundos.

Fig. 5 – Interplay dos ingredientes
que forjaram a Arte Recombinatória
Sentindo-me em boa companhia com Montaigne – que teria
dito que nunca leu um autor para formar uma opinião,
mas para encontrar no livro alheio a sua própria opinião,
formada há muito –, ia tecendo no dia a dia o
meu metatexto pessoal à volta dos mesmos temas, fazendo
cintilar as citações e combinando com outras
formas de vida as metáforas, metonímias e sincronicidades
suscitadas por todas as leituras desencontradas que se sucediam
vertiginosamente.
E como a trama aqui tecida se fez da inter-penetração
de vários registos, não é de estranhar
a miscelânea caótica daqui resultante, que dá
a minha autografia fractal pelo repisar dos temas de partida
em todas as escalas e sob os mais variados ângulos.
Construí assim um texto pontuado de insights associados
quase fenomenologicamente aos acontecimentos (vividos ou lidos)
de que sou feito. A esses insights iam-se juntando, uma montagem
circular sem princípio nem fim (Fig. 6), alguns ‘elementos
de discurso’, da ordem do simbólico: representações
de paisagens interiores, associações livres,
ideias paradoxais e contraditórias, confissões,
fingimentos, figuras desfocadas, ecos de música maldita,
estórias, colorações impressionistas,
coisas fantasmagóricas da imaginação,
optimismos destemperados.

Fig. 6 – The making of “ARTE
RECOMBINATÓRIA”, segundo Escher
1 A
partir destes sublinhados pode fazer-se uma arqueologia das
configurações do ‘eu’ em diferentes
circunstâncias. A este propósito, há quem
diga que leu determinado romance ‘tarde demais’
(ou cedo de mais). Eu acho que, sendo os livros parte da vida
– e não encontrando na vida uma sucessão
ordenada de ‘fases’ –, não vale a
pena “chorar sobre o leite derramado” (é
como dizer que ‘tudo teria sido diferente’, se
tivesse nascido noutras condições objectivas).
“ARTE RECOMBINATÓRIA”
Editorial Teorema (2000), p. 245-246
“APOLOGIA DO HIPERTEXTO NA DERIVA DO TEXTO”
Difel (2002), p. 39-44
A partilha do conhecimento é uma progressão
geométrica?
O modelo da progressão geométrica ficou tristemente
célebre desde que Malthus postulou, sem qualquer base
empírica, que a população humana se expandiria
segundo um tal modelo, enquanto os recursos disponíveis
cresceriam de acordo com o algoritmo da sua ‘irmã
menor’, a progressão aritmética. Esta
asserção levou a todo o tipo de catastrofismos 1
(milenaristas e outros) que se baseiam num qualquer ‘jogo
de soma nula’, a maior catástrofe epistemológica
que tem ameaçado a humanidade desde que Aristóteles
afirmou que “o bem de um homem é forçosamente
o mal de outro”.
Ora, na medida em que contesta firmemente a ideia de competição
pelos recursos, a partilha do conhecimento (o qual é
actualmente o mais importante dos recursos) está nos
antípodas da ‘lei da Malthus’, e assim
não tem nada a ver com o ‘jogo de soma nula’,
inscrevendo-se pelo contrário (nos nossos dias) numa
certa forma multiforme de cibercultura, de que a Net 2 é
a face visível.
De facto, dada a panóplia infinita de tecnologias digitais
para a pesquisa, processamento e transmissão de informação
que está à disposição dos indivíduos,
a escola perde a sua quase exclusividade em termos de fonte
de conhecimento (e muito menos, da sua partilha). E como,
por outro lado, os outros pilares de coesão da sociedade
burguesa também se foram esbroando, os indivíduos
têm de construir as suas identidades - onde o conhecimento
toma um lugar cada vez mais axial - à custa de uma
navegação à vista num mundo inteiramente
dominado pelos produtos imateriais das novas tecnologias da
informação/comunicação ( Fig.
7)
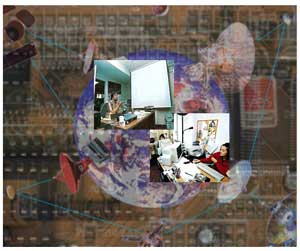
Fig. 7 – O mundo tornou-se numa
“sala de aula global”
E estas tecnologias, que são características
do homem-máquina à la Negri, distinguem-se radicalmente
das que fizeram a modernidade, o tempo do homem-homem que
dependia essencialmente de fluxos de matéria e energia.
Na Fig. 8 está sintetizada essa diferença radical,
mostrando como o fluxo de informação e conhecimento
não é ‘um jogo de soma nula’. Por
outro lado, a NONZEROSUMNESS, como Robert Wright baptizou
a driving force que está na base dos jogos de soma
positiva, leva à inovação e à
transmissão cultural (eu não perco informação
quando a transmito, e ganho seguramente quando a partilho).
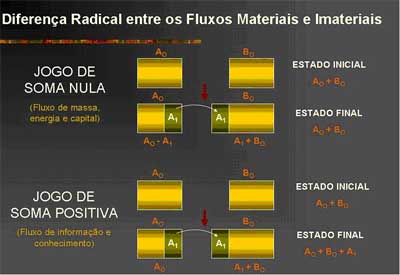
Fig. 8 – A partilha da informação
e do conhecimento é um jogo de soma positiva
1 Desmentidos
drasticamente por qualquer análise quantitativa minimamente
séria. Se quisermos, de um modo aproximado, estimar
qualquer coisa que mostre – contra todas as ‘previsões’
catastrofistas - que tem havido algum ‘progresso agregado’,
podemos partir de um situação passada, por exemplo
os anos 50 do século XX, e comparar alguns indicadores
desse tempo com a actualidade. Através deste exercício,
verifica-se que o aumento global do produto interno bruto
(que pode medir a utilização dos recursos) excedeu
largamente a tão temida explosão demográfica
(a qual não pode ser ‘prevista’ por qualquer
modelo, e muito menos por uma progressão geométrica).
2 E se há
quem diga que o desenvolvimento do harware segue uma progressão
geométrica de razão 2, não se segue daqui
que a partilha do conhecimento se possa exprimir linearmente
em qualquer medida relativa a esse desenvolvimento, seja ela
a capacidade de armazenamento, a velocidade de processamento
e de transmissão (ou outra qualquer, que não
dependa do uso convivial da máquina).
“AMBIVALÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO DE ONTEM E DE HOJE”
Singularidades, 20-21, Junho 2003, p. 57-62
“O ARTIFICIAL NA VIDA HUMANA E NA ORGANIZAÇÃO
SOCIAL”
Le Monde Diplomatique, nº 76, Julho 2005
Encontrou a luz no fundo de uma mina?
A mina foi para mim o resultado de uma série encadeada
de contingências. De facto, as escolhas possíveis
em termos profissionais para a minha geração
dependiam muito da questão da guerra colonial (e todos
os que fomos ‘mancebos’ há 40 anos tivemos
que enfrentar, de uma maneira ou de outra, uma ‘mancebia’
forçada com os fantasmas de uma guerra absurda, sem
fim à vista). E se aos fantasmas nenhum de nós
podia escapar, aqueles que ‘andavam a estudar’
tinham uma prerrogativa – ir adiando a incorporação,
desde que fossem ‘passando de ano’. Só
que os cursos têm uma duração finita (e
a guerra parecia infinita). Quando se esgotou o tempo dedicado
ao curso de Engenharia Química, recebi um convite da
Junta de Energia Nuclear (JEN) para tirar um novo curso: o
de MINAS, coisa exótica de que nunca ouvira falar (nesse
tempo de guerra, falava-se só de ‘minas e armadilhas’).
Aceitei o convite sem hesitar: a perspectiva de passar mais
três anos no Técnico, a minha alma mater onde
sempre me senti bem, agradou-me bastante (e não tinha
pressa nenhuma em ‘entrar no mercado de trabalho’,
já que passava a receber, desde logo, o ‘substancial’
ordenado de ‘Engenheiro de Terceira Classe’).
Além disso, podia beneficiar de um privilégio
exclusivo da JEN, que consistia na minha requisição
ao exército, para trabalhar na ‘investigação
científica’ ligada ao Urânio, após
a recruta (o que eliminava automaticamente o incomodativo
problema das deserções e exílios).
Só que a ‘investigação científica’
nos anos 70 do século XX tinha uma ‘forte componente
prática’. E assim, sofri inexoravelmente a condenação
ao ‘trabalho nas minas’ (Fig. 1), a qual se encontrava,
no ranking descendente dos antigos romanos, quase no fim da
lista, imediatamente antes da galera.

Fig. 9 – A fardamenta de um condenado
ao ‘trabalho das minas’
No entanto, per fortuna, mesmo essa condenação
ao ‘trabalho nas minas’ não se revelou
excessivamente dura, pois comecei a ‘derivar’
para a aplicação das ‘novas tecnologias’
que evitavam qualquer contacto com a rocha (substituindo os
bits das barrenas pelos bits do computador).
E nesta linha, não fiz mais do que acompanhar as mudanças
no Zeitgeist. De facto, a desmaterialização
do mundo contemporâneo, a emergência de tecnologias
‘limpas’, o desfazer do antigo dualismo Homem-Natureza
e a valorização da sociedade do conhecimento
são factores que jogam no sentido da ecologização
dos recursos minerais, que deixam de ser considerados como
fonte de meras commodities inertes e anódinas, cotadas
ao peso, para se tornarem ‘entidades-veículo’,
constituindo-se em produtos finais ou intermédios cujo
valor depende de ‘atributos especiais’, exigidos
por indústrias e serviços de conteúdo
cada vez mais simbólico. Na verdade, a dinâmica
não-linear que está por detrás da vaga
de fundo baseada nas novas tecnologias da informação/comunicação/conhecimento
arrasta também as indústrias extractivas, volatilizando,
à maneira de Hermes, os processos de apropriação
de uma matéria que é essencialmente consistente
e firme. Deste modo, as indústrias extractivas do futuro
vão combinar-se com o ciberespaço, trabalhando
on line e à distância, tomando propositadamente
a matéria pelas suas imagens, e introduzindo intensivamente
a robótica na exploração física
dos recursos. Surge então o conceito de MINA DIGITAL
(Fig. 10) em que - em vez de criar ex-nihilo as turbulentas
cidades mineiras do passado (agora transformadas em ghost
towns) - a ideia é planear e telecomandar a extracção
a partir de um qualquer centro urbano já existente,
ligado em rede com os vértices produtivos.
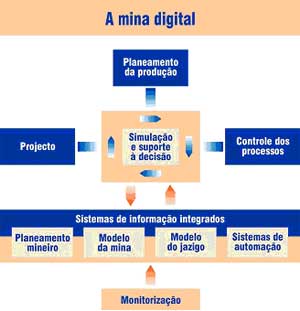
Fig. 10 – A luz no fundo da mina
“Do planeamento mineiro aos geossistemas: a engenharia
de minas do ponto de vista da modelização integrada
dos georrecursos e sua beneficiação”
in «Momentos de Inovação e Engenharia
em Portugal no século XX»
Dom Quixote (2004), Vol. II, p. 648-664
“Fragmentos do meu Mediterrâneo”
Editorial Teorema (2006), no prelo
Defina "viajar".
Viajar é escrever sobre a viajem.
“Fragmentos do meu Mediterrâneo”
Editorial Teorema (2006), no prelo
|